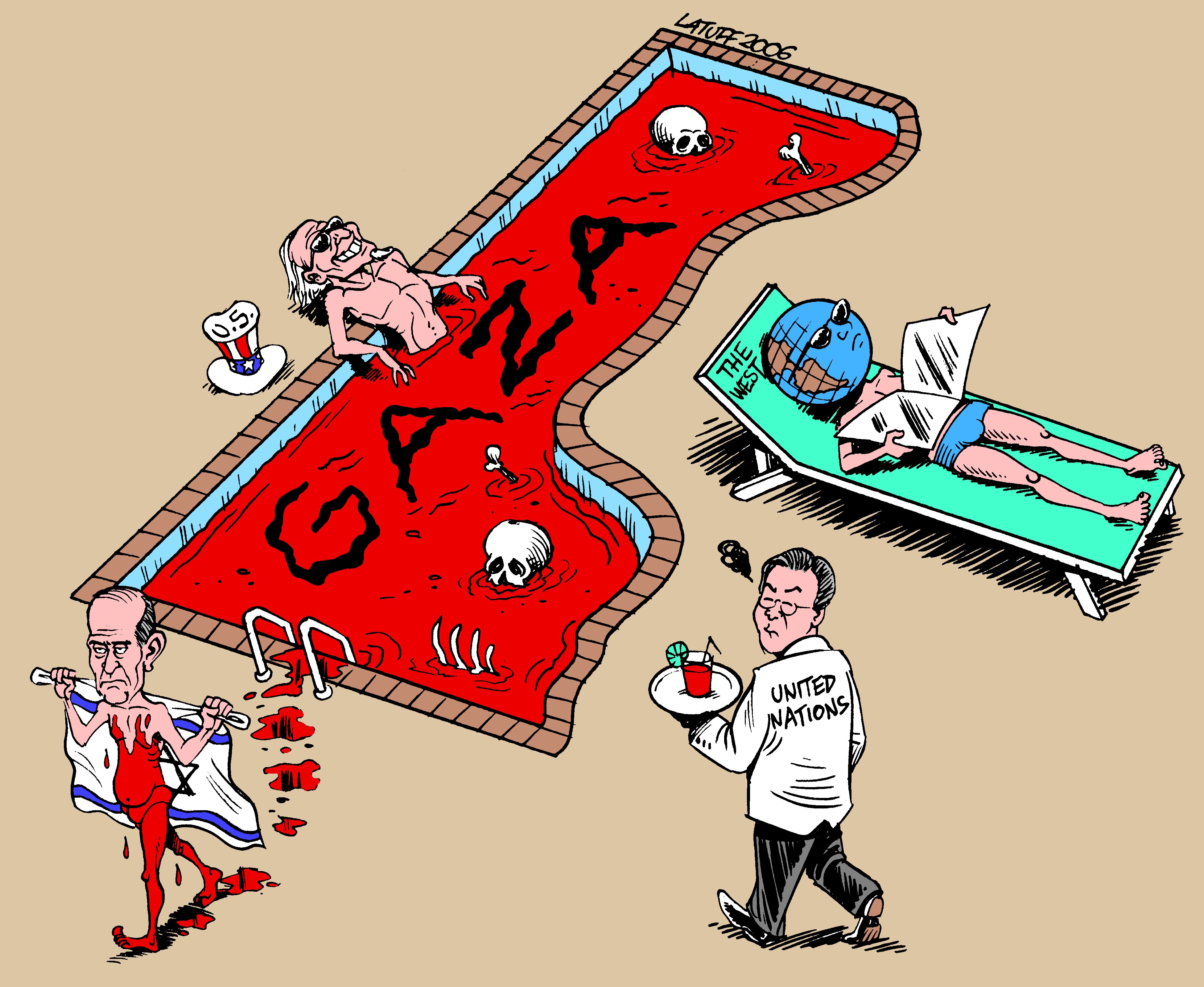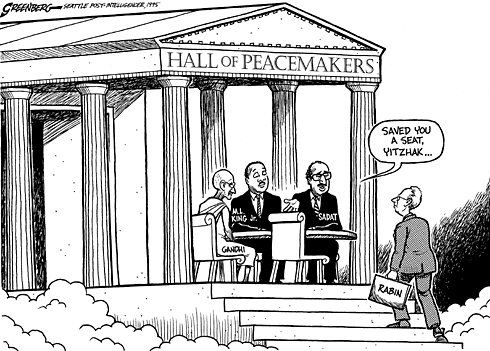O jornalista Otávio Dias, editor-chefe do Brasil Post, publicou no último dia 22 um texto estarrecedor intitulado Basta, Lula! Não se invoca o holocausto em vão (clique aqui para lê-lo), contra a menção de Lula ao Holocausto em meio aos debates eleitorais. Esse texto foi amplamente veiculado nas redes sociais por meio da Federação Israelita de São Paulo que, em nota, apresenta o seu descontentamento com a fala de Lula: “Sempre lamentamos quando alguém associa os crimes cometidos durante o nazismo a algum fato do cotidiano como uma campanha eleitoral”, nas palavras do seu assessor de imprensa Ricardo Berkienztat.
O jornalista Otávio Dias, bem como o assessor de imprensa da Federação Israelita de São Paulo Ricardo Berkienztat valem-se da menção ao nazismo para descreditar o ex-presidente Lula, como se este estivesse acusando de maneira indevida os seus opositores.
Afirmo, sem o menor receio, que tanto o jornalista Otávio Dias quanto a assessoria de imprensa da Federação Israelista de São Paulo têm uma visão antiquada e essencialista do que foi o nazismo na história da humanidade, e reitero a necessidade de se fazer referência a ele em toda e qualquer reflexão sobre o momento em que vivemos. Como nos demonstra parte da filosofia social do século XX (Hannah Arendt, Theodor Adorno, Giorgio Agamben, Didi-Huberman entre outros – a maior parte deles judeus), o nazismo não se trata de uma exceção, mas uma possibilidade, uma potencialidade inerente à política. Enquanto tal, deve ser mencionado, debatido e refletido, como única forma de ser evitado.
Mas afinal, o que mesmo disse Lula?
As frases fazem parte de um mesmo discurso, mas uma leitura minimamente atenciosa nos permite ver que o ex-presidente não comparou os tucanos aos nazistas. Lula compara, sim, o passado de Dilma e de Aécio Neves: “Onde estava o candidato, quando essa moça, aos 20 anos, estava colocando a vida em risco na luta pela liberdade desse País? Estava aprendendo a ser grosseiro, a ser mal-educado? ”. Pessoalmente, não acho um bom argumento, pois não me interesso por esse tipo de genealogia. Não sei como foi a adolescência das pessoas que admiro, mas me interesso muito pelo que elas estão pensando e propondo agora.
De todos os modos, Lula, que discursava no interior de Pernambuco, segue sua fala e faz, momentos depois, uma menção ao preconceito existente no país contra os nordestinos: ”Se o Nordeste ouviu, se o Nordeste leu o preconceito contra nós, as injustiças”. Ainda, segue: “Parece que estão agredindo a gente como os nazistas [agrediam] no tempo da Segunda Guerra”.
O jornalista Otávio Dias afirma que Lula ”manteve a estratégia de opor o povo nordestino aos tucanos”. Mas o ex-presidente não relaciona o verbo agredir com o partido tucano. ”Estão nos agredindo”, afirma Lula, de modo geral! E alguém em sã consciência nesse país teria a coragem de dizer que os nordestinos não estão sendo agredidos? Que não existe um preconceito contra essa região do país, afirmando que aqueles que recebem o Bolsa Família não deveriam votar, ou que no Nordeste só votam no PT porque são analfabetos?
Lula segue seu discurso, dessa vez sim, voltando ao PSDB, e afirmando o seu desejo de destruir a imagem do governo Dilma. Mas não vincula, em nenhum momento, o PSDB ao ódio que existe no país a respeito dos nordestinos.
Não obstante, detenhamo-nos alguns momentos no que diz o jornalista Otávio Dias a respeito da preocupação de Lula sobre o preconceito existente contra os nordestinos. Mencionando com uma forte carga emotiva a viagem que fez, quando tinha 25 anos, aos campos de concentração na Polônia, afirma: ”Naquela viagem, aprendi de uma vez por todas que não se brinca com um crime de proporções tão gigantescas como o praticado pelo regime nazista durante o Holocausto”.
Para o jornalista, Lula está brincando, ao mencionar o preconceito existente no Brasil contra os nordestinos. Para mim, aponta a uma realidade preocupante, diante da qual não podemos permanecer calados. Basta ver as menções constantes contra nordestinos na internet, bem como a existência de grupos neonazistas que promovem o assassinato de gays, ciganos, negros, nordestinos e judeus… No Brasil.
Por que não mencionar o Holocausto?
Essa parece ser a pergunta chave: por que não mencionar o Holocausto? O que existe por traz das reticências da Federação Israelita bem como de Otávio Dias é entender o holocausto como uma exceção à história, que não podemos compreender e cuja singularidade não permite ser invocado em nenhuma outra situação.
Essa aura ao redor dos campos de concentração foi tratada em diversos livros, entre os quais ressalto O que resta de Auschwitz, do italiano Giorgio Agamben, e Imagens apesar de tudo, do francês Georges Didi-Huberman. Em primeiro lugar, rechassemos a própria palavra holocausto, que quer dizer o sacrifício de alguém em nome de algo. Os judeus não foram mortos para expiar nenhum pecado, mas pelas mãos de outros homens, com intenções claras e que souberam arquitetar do modo mais perverso possível as máquinas de morte. Doravante, utilizemos o vacábulo Shoá, que quer dizer tragédia. Infelizmente, a áurea religiosa ao redor do holocausto se faz presente no título do jornalista Otávio Dias, ao jogar com o mandamento não mencionarás o nome de Deus em vão.
Em segundo lugar, os campos de concentração, como bem nos mostra Hannah Arendt, foram projetados para que ninguém acreditasse em sua existência. Eram inimagináveis. Entretanto, foram imaginados, projetados e colocados em prática. Não podemos cair na armadilha de considerá-los inimagináveis. São produtos humanos e de certa sociedade, com certa concepção de poder, partes de nossa cultura como o são as pirâmides para a cultura egípcia, como afirma o intelectual francês Georges Bataille.
O nazismo e a Shoá têm, sim, suas singularidades, o que não quer dizer que não comparta pontos com outros eventos trágicos na história da humanidade. Foi a única vez que uma organização estatal se estruturou sistematicamente para o extermínio de uma população específica. Mas o extermínio mais ou menos sistemático de populações, mais ou menos estruturalmente promovidos por Estados, dentro de jogos econômicos e de poder, não é exclusividade do nazismo.
Para aqueles que não tenham interesse em ler os livros de filosofia política e social a partir da Shoá,recomendo que assistam ao brilhante documentário de Peter Cohen, Arquitetura da Destruição (disponível online aqui). Nele, se torna claro como o nazismo analisa o seu entorno a partir do conceito de decadência do mundo moderno e se propõe a regenerá-lo. Peter Cohen defende que os nazistas entendiam sua tarefa como um processo estético, de embelezamento, que incluía uma teoria específica sobre a nova cultura a ser forjada e os degenerados a serem exterminados: pessoas com deficiências físicas e motoras, judeus, esquerdistas, ciganos e gays.
A Federação Israelita desrespeita a memória da Shoá
A Federação Israelita, pelo passado daqueles que representa, tem o dever de divulgar uma nota rechaçando qualquer comentário racista e preconceituoso existente no país. E não criar relações em um discurso que não existe (repito, Lula nunca afirmou que a oposição seria nazista), para entrar em um jogo político menor.
É justamente pelo tamanho das tragédias que ocorreram nos campos de concentração que necessitamos dar uma resposta radical a qualquer elemento que se assemelhe a isso. Não, o Brasil obviamente não está em vias de instaurar campos de concentração contra nordestinos e homossexuais (assim esperamos!), o que não retira nosso dever em combater qualquer mensagem de ódio a quem quer que seja, por sua cor de pele, religião, etnia ou orientação sexual.
Mas existem elementos mais perversos nesse debate a respeito da memória da Shoá. A reportagem de Otávio Dias tem uma finalidade muito específica, de difamar o ex-presidente. O partidarismo do jornalista se torna claro nessa frase: “Ao fazer declarações irresponsáveis como as feitas nesta terça diante de milhares de pessoas em Pernambuco, Lula desrespeita não somente os milhões de mortos e aqueles que sobreviveram ao genocídio nazista como a todos os brasileiros que, exercendo seu livre direito ao voto, preferem apoiar a oposição nestas eleições. E, segundo as pesquisas de opinião, eles são quase 50% dos eleitores”.
A Federação Israelita, órgão supostamente neutro e de defesa da comunidade judaica ante a sociedade em general e ao Estado brasileiro, também parece entrar dentro desse jogo político menor, desrespeitando ela sim a memória da Shoá, divulgando um artigo partidário como o do jornalista Otávio Dias e gerando comentários extremamente classistas em sua página no Facebook, vinculando um antipetismo cego, como: ”O Brasil elege um operário, sem estudo, sem escrúpulo, semianalfabeto… Dá nisso! Espero que nós judeus nos unamos em campanha para tirar o PT do comando deste País”.
De modo muito claro: 1) Lula nunca afirmou que tucanos sejam similares a nazistas; 2) o nazismo deve ser pensado como uma degeneração que pode surgir da política, e não uma exceção; 3) quem faz mau uso da memória da Shoá é a Federação Israelita e o jornalista Otávio Dias, deliberadamente, para favorecer um partido específico.
Como judeu, de esquerda, avesso a quaisquer tipos de nacionalismos, e que trabalha no campo da arte, elementos que fariam de mim algo como um alvo ideal aos olhos de um nazista – tal como foram meus familiares e seus próximos –, concluo, afirmando a necessidade de se entender sistemicamente o holocausto como o momento mais sangrento e trágico de um processo histórico maior de instauração da modernidade e do capitalismo. Uma política de extermínio que soube unir o ódio mais bestial ao diferente identificado como degenerado nas figuras dos judeus, dos homossexuais e dos ciganos, para defender uma ideia de nação, uma saída à crise econômica e uma resposta contundente ao que consideravam o bolchevismo.
O nazismo deve ser visto, como nos mostram os mais interessantes autores de filosofia social e política, como uma possibilidade inerente de degeneração de todo processo político, uma potencialidade deste, e não sua exceção. Como tal, deve ser mencionado e relembrado, para que nunca mais se repita, onde quer que seja, e com quer que seja. Como afirmou, em justos termos, o presidente Lula, quando de sua visita ao Museu do Holocausto (Yad Vashem), em Jerusalém: “Todos os que querem dirigir uma nação deveriam visitar o Museu do Holocausto para saber o que pode acontecer quando a irracionalidade toma conta do ser humano”.
PS: Aos que tiverem interesse em ler minhas críticas ao PT, recomendo o artigo que escrevi sobre o antipetismo, em que aponto para problemas estruturais na política do governo Dilma, aqui.
Texto publicado originalmente no blog Gusmão.